O autor é editor associado da revista “The Spectator” e tem vindo a contestar o que considera uma exagerada vitimização em questões de sexo (género), raça e homossexualidade. O Expresso publica em antecipação a introdução do seu último livro.
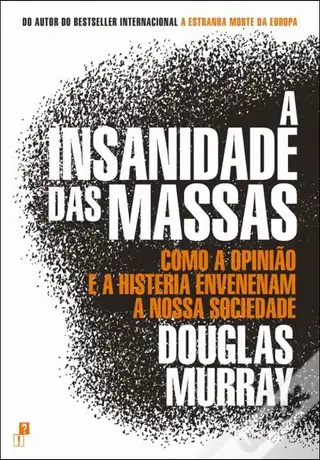 |
| Capa da tradução portuguesa de “A Insanidade das Massas” de Douglas Murray |
Em entrevista a publicar no sábado na Revista do Expresso deixa ainda um alerta: “Quanto mais as pessoas sentirem que não podem dizer o que pensam, é mais provável votarem por alguém que diz tudo e mais alguma coisa”
Vivemos, atualmente, uma grande insanidade das multidões. Em público e em privado, tanto no online como offline, as pessoas estão a comportar-se de forma cada vez mais irracional e febril, seguindo o rebanho ou sendo simplesmente desagradáveis. O ciclo diário das notícias alimenta-se com as consequências desta situação. Contudo, apesar de vermos os sintomas em todo o lado, não vemos as causas.
As várias explicações avançadas tendem a sugerir que toda e qualquer loucura é consequência de uma eleição presidencial ou de um referendo. Mas nenhuma vai à raiz dos acontecimentos. Porque, muito abaixo desses eventos quotidianos, existem movimentos bem mais amplos e acontecimentos bem mais importantes. É tempo de começarmos a confrontar as verdadeiras causas do que está a correr mal.
A própria origem desta situação raramente é reconhecida: o facto simples de termos atravessado um período de mais de um quarto de século em que todas as nossas grandes narrativas caíram por terra. Foram, uma a uma, refutadas, tornou-se impopular defendê-las ou impossível sustentá-las. As explicações para a nossa existência fornecidas pela religião foram as primeiras, esboroando-se a partir do século XIX. Depois, ao longo do século passado, as esperanças seculares apresentadas pelas ideologias políticas seguiram na esteira da religião. Na última parte do século XX, entrámos na era pós-moderna. Uma era que se definiu e foi definida pela desconfiança em relação a todas as grandes narrativas.
Contudo, como todos os alunos da escola aprendem, a natureza abomina o vazio, e no vazio pós-moderno novas ideias começaram a despontar, com a intenção de fornecerem as suas próprias explicações e sentidos. Era inevitável que se pintassem alguns limites no campo vazio. As pessoas nas democracias ricas ocidentais de hoje em dia não podiam, simplesmente, ser as primeiras desde o início da História a não ter absolutamente nenhuma explicação para o que fazemos aqui, nenhuma história para dar um sentido à vida. Por muito que lhes faltasse alguma coisa, as grandes narrativas do passado davam, pelo menos, um sentido à vida. A questão do que, exatamente, se supõe que façamos agora - além de enriquecermos como quer que possamos e de usufruirmos de todos os divertimentos que nos sejam oferecidos - teria de ser respondida por alguma coisa.
A resposta que se apresentou nos últimos anos passa por empreender novas batalhas, fazer campanhas ainda mais agressivas e ainda mais exigências de nichos. Encontrar significado travando uma guerra constante contra quem quer que pareça estar do lado errado de uma questão que acabou, ela própria, de ser reformulada e cuja resposta acabou de ser alterada. A velocidade incrível deste processo deve-se sobretudo ao facto de uma série de empresas em Silicon Valley (nomeadamente Google, Twitter e Facebook) deterem agora o poder de não só mandar no que a maior parte das pessoas no mundo sabem, pensam e dizem, mas também terem um modelo de negócio que foi muito bem descrito como dependendo de encontrar «clientes prontos a pagarem para modificar o comportamento de outras pessoas».
Apesar de estarmos a ser castigados por um mundo tecnológico cujo avanço rápido não conseguimos acompanhar, estas guerras não são travadas sem objetivo. São travadas, consistentemente, numa direção particular. E essa direção tem um propósito vasto. Esse propósito - inconsciente em algumas pessoas, deliberado noutras - é implantar nas nossas sociedades uma nova metafísica ou, se preferirem, uma nova religião.
Embora as fundações tenham sido lançadas ao longo de várias décadas, apenas desde a crise financeira de 2008 se verificou uma marcha em direção ao mainstream de ideias antes apenas conhecidas pelas mais obscuras franjas da academia. Os encantos deste novo conjunto de crenças são bastante óbvios. Não é claro porque é que uma geração que não pode acumular capital haveria de ter um grande amor ao capitalismo. E não é difícil perceber porque é que uma geração que acredita talvez nunca poder ter casa própria sente atração por uma visão ideológica do mundo que promete resolver todas as desigualdades, não apenas na sua vida, mas todas as desigualdades do mundo. A interpretação do mundo através das lentes da « justiça social», das «políticas de identificação grupal» e do «interseccionalismo» é provavelmente o esforço mais audaz e amplo desde o fim da Guerra Fria para criar uma nova ideologia.
Até agora, a «justiça social» foi a que avançou mais, porque soa - e em algumas versões, de facto, é - sedutora. O próprio termo foi concebido para não admitir oposição. «Opõe-se à justiça social? Então quer o quê? Injustiça social?»
As «políticas de identidade», entretanto, tornaram-se o lugar onde a justiça social encontra as suas fações. Atomizam a sociedade em diferentes grupos de interesses de acordo com o sexo (ou género), raça, preferência sexual e outras coisas. Partem do princípio de que estes atributos são os mais importantes ou únicos relevantes dos seus possuidores, e que são acompanhados de certos bónus. Por exemplo (como descreveu o escritor americano Coleman Hughes), existe a assunção de que há uma «sabedoria moral mais elevada» que advém do facto de se ser negro, mulher ou gay.
Vem daí a tendência das pessoas para começarem os seus discursos dizendo, «Falando enquanto…». E tanto vivos como mortos precisam de estar do lado certo. É por isso que há apelos ao derrube de estátuas de figuras históricas vistas como tendo estado do lado errado e é por isso que temos de reescrever o passado daqueles que queremos salvar. Foi por isso que se tornou perfeitamente normal um senador do Sinn Fein afirmar que os grevistas de fome do IRA em 1981 estavam a lutar pelos direitos dos gays. A política de identidade é onde os grupos minoritários são incentivados a, simultaneamente, atomizarem, organizarem e afirmarem.
O conceito menos atrativo desta trindade é o de interseccionalidade. Trata-se de um convite a passar o resto da vida a tentar compreender toda e qualquer reivindicação de identidade e vulnerabilidade em nós mesmos e nos outros e depois organizarmo-nos dentro de qualquer sistema de justiça que emirja da hierarquia perpetuamente em movimento que vamos destapando. É um sistema que, além de inoperável, é demencial, fazendo exigências impossíveis em relação a fi ns inatingíveis. Porém, hoje em dia, a interseccionalidade saiu dos departamentos de ciências sociais das faculdades onde se originou. Está agora a ser levada a sério por uma geração de jovens e - como veremos - implantou-se nas leis do trabalho (especificamente através de um «compromisso com a diversidade») em todas as grandes corporações e governos.
Novas heurísticas tornaram-se necessárias para forçar as pessoas a absorver os novos princípios. A velocidade a que se tornaram mainstream é desconcertante. Como salientou o matemático e escritor Eric Weinstein (e como mostra uma pesquisa no Google Books), expressões como «LGBTQ», «privilégio branco» e «transfobia» passaram de um ponto em que nunca eram usadas a outro em que são mainstream. Como escreveu acerca do gráfico daqui resultante, o «material para despertar consciências» que os Millennials e outros estão a usar atualmente para «destruir milénios de opressão e/ou civilização… foi inventado há cerca de 20 minutos». Prossegue dizendo que, apesar de não haver nada de errado em experimentar novas ideias e expressões, «é preciso ser-se muito imprudente para confiar tanto em tantas heurísticas não testadas, que os seus pais inventaram em campos não testados e que não têm sequer 50 anos.»5 Do mesmo modo, Greg Lukianoff e Jonathan Haidt salientaram (no seu livro de 2018, The Coddling of the American Mind) o quanto são recentes os meios de policiar e regulamentar estas novas heurísticas. Expressões como « triggered» e «sentir-se inseguro» e a afirmação de que as palavras que não se encaixam na nova religião causam «dano» só entraram em uso a partir de 2013.6 É como se, tendo definido o que pretendia, a nova metafísica tivesse dedicado a meia década seguinte a definir como intimar os seus seguidores a chegarem ao mainstream. Mas fê-lo, e com grande sucesso.
Os resultados podem ser vistos nas notícias diárias. Sabe-se que a Associação Americana de Psicologia sente necessidade de aconselhar os seus membros sobre a forma de remover dos homens e rapazes a « masculinidade tradicional» prejudicial. É por isso que um programador do Google antes completamente desconhecido - James Damore - pode ser despedido por ter escrito um memorando a sugerir que alguns empregos tecnológicos são mais para homens do que para mulheres. E é por isso que o número de americanos que veem o racismo como um «grande problema» duplicou entre 2011 e 2017.
Tendo começado a ver tudo através das novas lentes que nos forneceram, tudo é então transformado numa arma, com consequências que são simultaneamente dementes e causadoras de demência. É por isso que o The New York Times decidiu publicar um artigo escrito por um autor negro com o título: «Can my Children be Friends with White People?» [ Poderão os Meus Filhos Ser Amigos de Brancos? ] E é por isso que até um artigo sobre mortes de ciclistas em Londres, escrito por uma mulher, pode ter como título: «Roads Designed by Men are Killing Women» [Estradas Desenhadas por Homens Estão a Matar Mulheres].
Uma tal retórica exacerba quaisquer divisões existentes e, a cada vez, cria uma série de divisões novas. E com que propósito? Em vez de nos mostrar como nos podemos dar todos melhor, as lições da última década parecem exacerbar uma sensação de, na verdade, não sermos muito bons a viver uns com os outros.
Para a maioria das pessoas, alguma consciência deste novo sistema de valores tornou-se clara, não tanto por tentativa, mas sim por erro muito público.
 |
| Douglas Murray é um autor, jornalista e comentador político tem-se distinguido por contestar a emigração de muçulmanos para a Europa, no seu livro anterior, “A Estranha Morte da Europa”, e por recusar a criação de uma nova religião baseada em ciências sociais “inexistentes”. |
Porque uma coisa que toda a gente começou a sentir nos últimos anos é que foram instaladas uma série de minas através da cultura. Quer sejam colocadas por indivíduos, grupos ou qualquer satírico divino, ali estão, esperando que uma pessoa após outra tropece nelas. Por vezes um pé toca inadvertidamente numa e há uma explosão imediata. Noutras ocasiões, as pessoas viram um qualquer louco corajoso a caminhar diretamente para a terra de ninguém, completamente consciente do que fazia. Após cada detonação, existe alguma discussão (incluindo o ocasional «viva» de admiração) e depois o mundo prossegue, aceitando que o estranho e aparentemente improvisado sistema de valores do nosso tempo fez mais uma vítima.
Demorou algum tempo até que a delineação destas minas se tornasse clara, mas agora já o é. Entre as primeiras está tudo o que se relacione com a homossexualidade. Na última metade do século xx houve uma luta pela igualdade dos gays que foi tremendamente bem-sucedida, revertendo uma terrível injustiça histórica. Depois da guerra vencida, tornou-se claro que não ia parar. Na verdade, estava a transformar-se. GLB ( Gays, Lésbicas e Bi) tornou-se LGB, para não diminuir a visibilidade das lésbicas. Depois foi adicionado um T (de que se falará mais tarde). Depois um Q e em seguida algumas estrelas e asteriscos. E, à medida que o alfabeto gay crescia, também algo mudava dentro do movimento. Começou por se comportar - vitoriosamente - como os seus opositores se tinham comportado outrora. Quando a bota estava no outro pé, algo de feio aconteceu. Uma década antes, quase ninguém apoiava o casamento gay. Mesmo grupos pelos direitos dos gays, como o Stonewall, discordavam. Alguns anos depois, tornara-se um valor fundamental do liberalismo moderno. Ignorar a questão do casamento gay - apenas alguns anos depois de quase toda a gente o ignorar (incluindo grupos de defesa dos direitos dos gays) - era colocar-se fora dos limites aceitáveis. As pessoas podem concordar ou não com essa reivindicação de direitos, mas uma mudança tão rápida de costumes tem de ser feita com extraordinária sensibilidade e alguma reflexão profunda. Contudo, parecemos felizes em passar pelos temas a toda a velocidade, sem nos envolvermos em nada.
Outros assuntos seguiram um padrão similar. Os direitos das mulheres - tal como os dos gays - foram-se acumulando regularmente ao longo do século XX. Também estes pareciam estar a chegar a uma espécie de estabilidade. E então, quando o comboio parecia aproximar-se do destino desejado, ganhou subitamente vapor e descarrilou. O que praticamente não era discutível até ao dia de ontem, tornou-se razão para destruir a vida de uma pessoa hoje. Carreiras completas foram esmagadas e lançadas pelos ares enquanto o comboio prosseguia.
Carreiras como a do professor Tim Hunt, de 72 anos, vencedor de um Prémio Nobel, foram destruídas após uma anedota infeliz numa conferência na Coreia do Sul, acerca de homens e mulheres se apaixonarem no laboratório.
Expressões como « masculinidade tóxica» entraram no uso comum. Que virtude houve em tornar as relações entre os sexos tão tensas que a metade masculina da espécie pode ser tratada como se fosse cancerosa? Ou no desenvolvimento da ideia de que os homens não têm o direito de falar acerca do sexo feminino? Porque é que, quando as mulheres tinham quebrado mais telhados de vidro do que alguma vez na História, a conversa do « patriarcado» e da «condescendência masculina» escorreu das franjas do feminismo para o centro de lugares como o Senado Australiano
De modo similar, o movimento dos direitos civis na América, que teve início para corrigir o mais confrangedor dos erros históricos, parecia avançar para uma solução desejada. Porém, mais uma vez, perto da vitória, tudo pareceu azedar. Exatamente quando as coisas pareciam melhores do que nunca, a retórica começou a sugerir que nunca tinham sido piores. De repente - quando a maior parte de nós desejava que se tornasse um não-assunto - tudo parecia ter-se tornado uma questão de raça. Tal como em relação a todas as outras questões minadas, só um tolo ou um louco se atreveria, sequer, a especular - e muito menos a pôr em causa - esta viragem nos eventos.
E então, finalmente, todos esbarrámos, perplexos, com o território menos cartografado de todos. Era a afirmação de que entre nós vivia um número considerável de pessoas que habitavam corpos errados e que, em consequência, as poucas certezas que persistiam nas nossas sociedades (incluindo as enraizadas na ciência e na linguagem) precisavam de ser profundamente reformuladas. Em certos aspetos, o debate em torno da questão trans é o mais sugestivo de todos. Embora a mais recente das questões de direitos seja também a que afeta, de longe, o menor número de pessoas, é no entanto defendida com uma ferocidade e raiva quase inigualáveis. Mulheres apanhadas no lado errado da discussão foram perseguidas por pessoas que costumavam ser homens. Pais que davam voz à crença que era comum até ao dia de ontem, viram a sua capacidade parental questionada. No Reino Unido e em todo o lado a polícia investiga pessoas que não admitem que os homens podem ser mulheres (e vice-versa).
Uma das coisas que estas questões têm em comum é que começaram como campanhas legítimas de direitos humanos. Foi por isso que foram tão longe.
Mas, a certa altura, todas atravessaram a barreira de segurança. Não contentes com a igualdade, começaram a definir posições insustentáveis, como «melhor». Alguns podem argumentar que o objetivo é apenas passar algum tempo no «melhor» para nivelar o campo de jogo. Na esteira do movimento #MeToo tornou-se comum ouvir esses sentimentos. Como disse uma apresentadora da CNN, «Poderá haver uma correção excessiva, mas não faz mal. Devem-nos uma compensação». Até agora, ninguém esclareceu quando é que essa compensação terá sido atingida, nem em quem podemos confiar para o anunciar.
O que toda a gente sabe é os nomes que lhes chamarão se se mostrarem, ainda que levemente, contra estas minas acabadas de montar. «Intolerante», «homofóbico», «sexista», «misógino», «racista» e «transfóbico», só para começar. As lutas de direitos do nosso tempo centraram-se nestes assuntos tóxicos e explosivos. Mas, no processo, estas questões de direitos deixaram de ser o produto de um sistema para se tornarem as fundações de outro. Para demonstrar afiliação ao sistema, as pessoas têm de provar as suas credenciais e o seu compromisso. Como é que alguém pode demonstrar virtude neste novo mundo? Claramente, sendo «antirracista». Obviamente, sendo «aliado» das pessoas LGBT. Enfatizando, seja homem ou mulher, o seu desejo ardente de derrubar o patriarcado.
E isto cria um problema de fiscalização, em que as afirmações públicas de lealdade ao sistema devem ser feitas continuamente, haja ou não necessidade delas. É uma extensão de um problema bem conhecido do liberalismo, até entre aqueles que outrora travaram uma luta nobre. É uma tendência identificada, pelo falecido filósofo político australiano Kenneth Minogue, como a síndrome de «São Jorge aposentado». Depois de chacinar o dragão, o bravo guerreiro dá por si a examinar o terreno, procurando lutas ainda mais gloriosas. Precisa dos seus dragões. Finalmente, depois de se esgotar na perseguição de dragões cada vez mais pequenos, pode até ser visto a esgrimir a sua espada no ar, imaginando que lá estão dragões. Se isso pode ser uma tentação para um verdadeiro São Jorge, imagine-se o que fará uma pessoa que não seja santa, não tenha cavalo nem lança e em quem ninguém está a reparar. Como podem persuadir as pessoas de que, havendo oportunidade histórica, também elas teriam, sem hesitação, trucidado o dragão?
Nas afirmações e retórica de apoio citadas ao longo deste livro, há muito disto em evidência. A nossa vida pública está agora repleta de pessoas desesperadas por controlar as barricadas, muito depois de a revolução estar terminada. Seja porque confundem as barricadas com o seu lar, seja porque não têm outro lar para onde ir. Em ambos os casos, uma demonstração de virtude exige uma afirmação exagerada do problema, que causa a sua amplificação.
Mas existem mais problemas em tudo isto, e é por isso que considero as bases de cada uma destas novas metafísicas não apenas seriamente, mas uma a uma. Em relação a cada uma destas questões, um número cada vez maior de pessoas, tendo a lei do seu lado, parte do princípio de que tanto a sua questão como, na verdade, todas estas questões, estão encerradas e possuem acordo geral. O caso é bastante diferente. A natureza do que significa possuir o acordo geral não é de facto algo que possua o acordo geral. Cada uma destas questões é infinitamente mais complexa e instável do que as nossas sociedades, hoje em dia, desejam admitir. E é por isso que, colocadas juntas como os tijolos de fundação de uma nova moralidade e metafísica, constituem a base de uma loucura geral. De facto, é difícil imaginar uma base mais instável para a harmonia social.
Isto porque, apesar de a igualdade racial, os direitos das minorias e das mulheres se encontrarem entre os melhores produtos do liberalismo, constituem as fundações mais desestabilizadoras. Tentar que sejam a fundação é como virar um banco de bar e tentar equilibrar-se em cima dele. Os produtos do sistema não podem reproduzir a estabilidade do sistema que os produziu. Quanto mais não seja, porque cada uma dessas questões é, em si própria, uma componente profundamente instável. Apresentamo-las todas como resolvidas e possuindo acordo geral. Contudo, embora as infindáveis contradições, fabricações e fantasias no seio de cada uma sejam visíveis para todos, identificá-las não é apenas desincentivado, mas literalmente policia-o. E assim solicitam-nos que concordemos com coisas em que não podemos acreditar.
É a razão fundamental para as discussões, tanto online como na vida real, serem tão desagradáveis. Porque nos estão a pedir que realizemos um conjunto de saltos que não conseguimos realizar, e que provavelmente será insensato realizar. Pedem-nos que acreditemos em coisas que são inacreditáveis e dizem-nos que não objetemos a coisas (como dar às crianças medicamentos que as impedem de passar pela puberdade) às quais a maioria das pessoas sente grandes objeções. A dor que resulta de se esperar que fiquemos em silêncio relativamente a alguns assuntos importantes e demos saltos impossíveis noutros, é tremenda, até porque os problemas (incluindo as contradições internas) são tão evidentes. Como todos aqueles que viveram sob um regime totalitário podem confirmar, há algo de humilhante e até destruidor da alma quando se espera que alinhemos com reivindicações que não acreditamos serem verdadeiras e não se podem provar verdadeiras. Se a crença é a de que todas as pessoas devem ser vistas como tendo igual valor e que lhes deve ser atribuída dignidade igual, então está tudo muito bem. Se nos pedirem que acreditemos não haver diferenças entre homossexualidade e heterossexualidade, homens e mulheres, racismo e antirracismo, isto acabará por nos distrair. Essa distração - ou insanidade das massas - é algo em cujo seio nos encontramos e de onde precisamos de sair.
Se falharmos, a direção da viagem já é clara. Enfrentamos um futuro não apenas de maior atomização, raiva e violência, mas um futuro em que a possibilidade de uma reação negativa contra todos os avanços nos direitos - incluindo os bons - tem mais probabilidade de crescer. Um futuro em que ao racismo se responderá com racismo, e a humilhação com base no género será respondida com humilhação com base no género. Num determinado estádio de humilhação, não há simplesmente razão para grupos maioritários não voltarem a jogar jogos que tiveram resultados tão bons para eles.
Este livro sugere uma série de formas para sair desta situação. Mas a melhor forma de começar é não apenas compreender as origens do que se passa neste momento, mas ser livre para o discutir. Ao escrever este livro, descobri que o Exército Britânico tem um equipamento de limpeza de minas chamado «The Python», mas que, num estágio anterior ao seu desenvolvimento, se chamava «The Giant Viper». Quando este sistema é disparado num campo de minas, liberta um foguete atrás do qual se desenrola uma cauda semelhante a uma mangueira com centenas de metros de comprimento e cheia de explosivos. Quando esta está estendida sobre o campo de minas (e, como em relação a tudo o resto, é possível ver vídeos disto online), causa aquilo a que se chama «detonação por simpatia». Ou seja, todo o aparelho explode, detonando minas num raio significativo em torno do foguete e da sua cauda. Embora não consiga limpar todo o campo de minas, consegue limpar um caminho através do qual pessoas, camiões e até tanques podem viajar com segurança no que era antes terreno intransitável.
Na minha modesta forma de pensar, este livro é o meu sistema Viper. Não pretendo limpar todo o campo minado - nem poderia, ainda que quisesse. Mas espero ajudar a limpar algum terreno através do qual outras pessoas possam depois passar com maior segurança.
(Publicado no Expresso em 27/02/2020)
Sem comentários:
Enviar um comentário